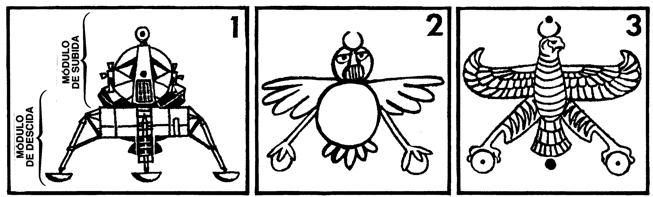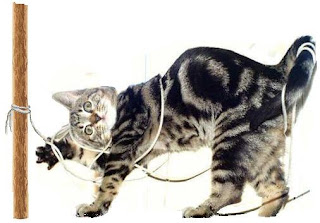24 de Junho, 2024 Onofre Varela
O HOMEM CRIOU DEUS
O Homem Criou Deus, de Onofre Varela. Apresentado no ATENEU COMERCIAL DO PORTO por Renato Soeiro. Este sábado, 29 de Junho, às 16h00.
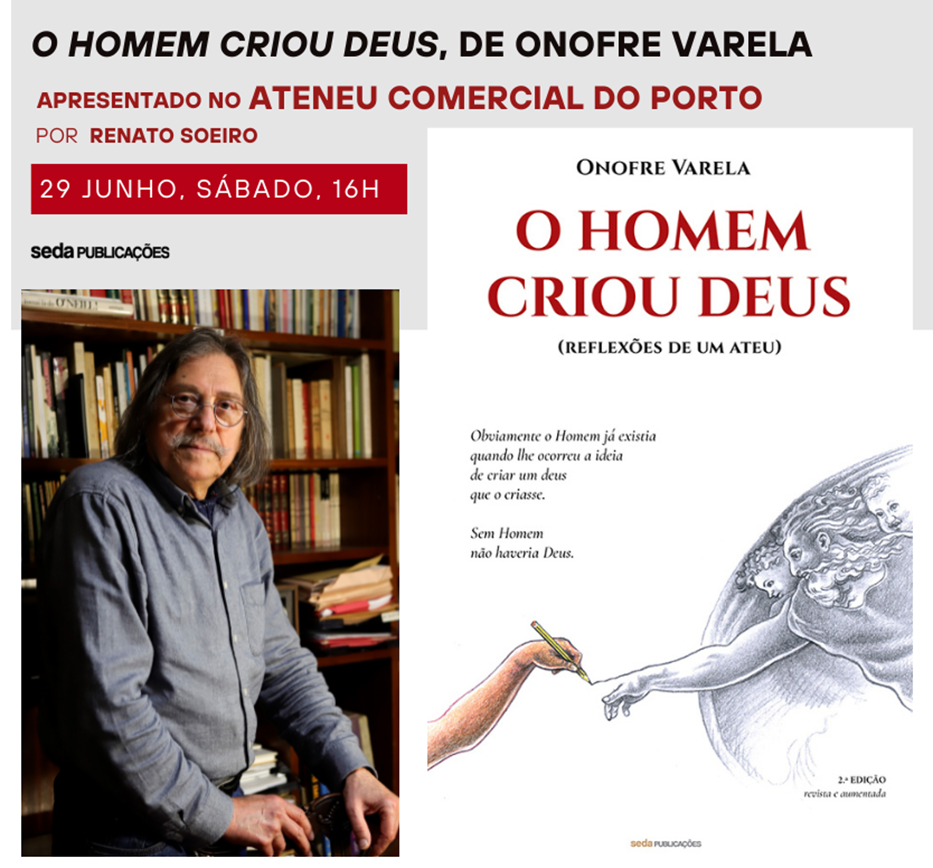
Obviamente o Homem já existia quando lhe ocorreu a ideia de criar um deus que o criasse. Sem Homem não haveria Deus.
Onofre Varela – O Homem Criou Deus