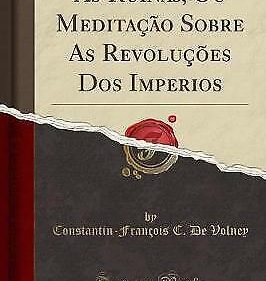O DEUS ANÓNIMO
De Jesus a Shakespeare
O seguinte texto é da autoria de Daniel Ramalho
Mesmo sem saber quem está neste momento a ler estas linhas, arrisco afirmar que é nelas que lerá pela primeira vez o nome de Constantin François de Chassebœuf, conde de Volney. Digo-o com quase absoluta certeza porque o seu anonimato chega ao ponto de o dia do seu aniversário, 3 de Fevereiro, ser conhecido como “Nobody’s Day” – o dia em que por algum inexplicável desígnio do destino alegadamente nenhuma personagem histórica de relevo nasceu.
Que é uma injustiça relegar de Volney à vala comum da História é facilmente justificável. Os seus contributos como arabista, filósofo e político (nomeadamente pelo seu envolvimento na Revolução Francesa) são demasiados em número e interesse para que procure aqui resumi-los. Direi apenas que não será tempo perdido pesquisá-los. Contudo, refiro-o aqui em particular à sua magistral obra As Ruínas, ou Meditações sobre as Revoluções dos Impérios (1817), por ter sido a primeira a popularizar muitos dos argumentos mais comuns no arsenal argumentativo daqueles que defendem a teoria do “Mito de Cristo.” Apesar de então ter inaugurado a dúvida sobre a existência do Jesus histórico, de Volney foi sem dúvida o mais importante dos seus divulgadores entre a intelligentsia iluminista, em particular após o referido livro ter sido traduzido para Inglês por Thomas Jefferson, seu amigo próximo. Poucos sabem que de Volney existiu, mas o problema histórico e teológico que nos deixou em legado é hoje, em grande medida graças a si, lugar-comum.
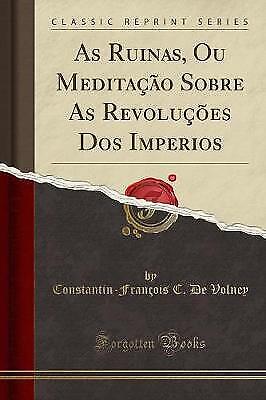
A teoria do mito de Cristo foi amplamente discutida nos últimos dois séculos e não é minha intenção abordá-la aqui, mesmo porque a posição de que o Jesus histórico existiu é quase consensual entre historiadores. Mais do que a questão em si, interessa-me como é possível que tenha surgido – ou por outras palavras, como pode ser que não saibamos com absoluta certeza se a personagem mais importante da História é ou não fictícia. A forma mais simples de um cristão responder a estas objecções consiste em apontar para o facto de se tratar de alguém que viveu há 2000 anos, numa sociedade predominantemente analfabeta e antes de haver imprensa, e que este abismo cronológico faz com que seja fácil para os cépticos questionar se estas figuras tão distantes no tempo chegaram a nascer (como acontece, por exemplo, com o ainda mais remoto Sócrates).
Será então que a distância temporal justifica duvidar da existência de Jesus, e que se estivéssemos apenas mais perto do tempo e espaço em que ele viveu teríamos dados suficientes (orais e escritos) para saber sem sombra de dúvidas que ele de facto existiu e que fez milagres? Será por miopia histórica que não vemos o que é evidente para todo o cristão?
Não, e sabemos que assim é pelo exemplo de uma outra figura central da história ocidental historicamente muito mais próxima de nós. Refiro-me ao caso de William Shakespeare.
O culto de Shakespeare atingiu ao longo dos séculos proporções tão desmesuradas que George Bernard Shaw sentiu necessidade de criar uma designação para quem padece dessa condição clínica: “bardólatra” – da qual me confesso paciente crónico. Quase dois milénios passaram até que alguém pusesse em causa a existência do Jesus histórico. Com Shakespeare, apesar de ter vivido na Inglaterra isabelina que era obcecada com registos de toda a espécie, foi preciso apenas um século. O espraiar da bardolatria pela Europa foi acompanhado por uma crescente desconfiança sobre quem seria realmente o mítico “Bardo.” Ninguém questiona que alguém chamado Shakespeare existiu entre 1654 e 1616. Poucas certezas há sobre o homem – alguns até questionam que tenha sido um homem –, mas entre elas estão a de que era actor, filho de um luveiro (provavelmente analfabeto), que não deixou indicação de ter viajado para lá de Londres, que saiu da escola aos 15 anos, e que nunca frequentou uma universidade. Destas certezas uma outra foi extraída por vários ao longo da História: a de que este retrato simplesmente não pode ser o do autor do corpo literário 100.000 palavras mais longo que a Bíblia do King James, e que Harold Bloom designou de “bíblia secular.” Além disso, de todas essas incontáveis palavras que escreveu – muitas das quais cunhadas por si, entre as quais a palavra “incontável” – apenas seis nos chegaram escritas à mão: todas elas assinaturas, de autenticidade duvidosa, e todas escritas de forma diferente (nenhuma delas “Shakespeare” como escrevemos hoje).
Os que não acreditam que o Shakespeare de Stratford-upon-Avon foi o autor da obra que lhe é atribuída consideram que está provado de forma decisiva que o autor foi outro, muito provavelmente Edward de Vre, Conde de Oxford – de onde deriva a designação de “Oxfordianos” atribuída a quem defende esta hipótese. Foram várias as celebridades ao longo do tempo que se incluíram no número dos Oxfordianos, como Sigmund Freud, Henry James, Walt Whitman, William James, Ralph Waldo Emerson, Mark Twain, Orson Wells, Charlie Chaplin, e muitos outros. Diana Price, uma das mais famosas Oxfordianas da actualidade, afirma que “se escrever peças fosse crime, não haveria provas suficientes para condenar Shakespeare em tribunal.” Alexander Waugh, outro anti-Stratfordiano contemporâneo, está convicto de que uma enorme conspiração foi engendrada para proteger a identidade de Edward de Vere, verdadeiro autor da obra “Shakespereana,” com pistas espalhadas aqui e ali que uma vez identificadas provam sem margem para dúvidas que o Shakespeare histórico não foi mais do que um actor e astuto homem de negócios que provavelmente nunca escreveu uma linha na vida por nunca ter aprendido sequer a escrever. Há aqui um interessante paralelismo com o conde de Volney, que propôs a hipótese de ter havido uma obscura figura histórica correspondente a Jesus transubstanciada em Cristo pela religião até pouco ou nada restar da pessoa que realmente existiu.
Mas o paralelo vai mais longe do que isso. Tal como especialistas em crítica textual procuram extrair dados sobre o Jesus histórico dos Evangelhos, também os bardólatras fazem o mesmo com a obra de Shakespeare. A cena do festival da tosquia na peça As You Like It leva os Stratfordianos a crer que o Shakespeare de origens humildes e poucos estudos foi de facto o autor, pois um aristocrata nunca saberia tanto sobre um festival de camponeses. Um outro bardólatra foi a todos os locais de Itália referidos por Shakespeare nas suas peças e concluiu que as descrições feitas dos mesmos só poderiam ter sido escritas por quem tenha lá estado, o que reforça a posição Oxfordiana porque Shakespeare, que se saiba, nunca saiu das fronteiras britânicas.
E há ainda dilemas textuais, como acontece com a Bíblia. Por exemplo, no final da peça King Lear encontram-se em diálogo Edgar e Albany, dois candidatos à coroa, nenhum dos quais a quer. Tradicionalmente, no teatro isabelino e jacobino, as palavras que concluem a peça são proferidas por quem fica no poder. Nos últimos versos do King Lear, um destes dois acaba por ter de aceitar ser rei, mas numa edição (1623) quem o faz é Edgar, e noutra (1632) é Albany. Ora, Albany é o legítimo sucessor, pelo que a mensagem de Shakespeare é diferente consoante quem ascende ao poder no final. E apesar dos rios de tinta que correram sobre a questão, a verdade é que não se sabe. Stephen Greenblatt, um famoso estudioso de Shakespeare da actualidade, diz sobre esta questão que provavelmente nem Shakespeare sabia qual das personagens devia ascender ao trono no final, e que a indeterminação em que nos vemos hoje a esse respeito é tão nossa quanto foi dele.
Ou seja, tanto no caso de Jesus quanto no de Shakespeare, temos uma personalidade histórica que sabemos ter existido mas que é identificada pela tradição com uma personagem rodeada de uma aura de divindade de tal modo ofuscante que não conseguimos perceber se são ou não a mesma pessoa. E este é o ponto para o qual pretendo chamar a atenção. Estando nós na posse quando um milhão de palavras na “voz” de um autor, atribuídas a uma personalidade que sabemos sem sombra de dúvida ter existido, separada de nós por uns meros 400 anos, ainda assim não nos livramos de uma “dúvida razoável” relativamente à sua identidade igual à da do Jesus Cristo dos Evangelhos. Em ambos os casos a dúvida é suscitada pelo carácter “sobrenatural” dos textos que nos chegaram dessas figuras, com a diferença de que no caso de Shakespeare o texto na origem da discussão não lhe atribui milagres mas é em si o milagre que lhe é atribuído.
A hipótese Oxfordiana mais popular aponta, como referido, para uma conspiração que alegadamente visou escudar a real identidade do autor dos textos “Shakespereanos.” Autores como Bart Ehrman defendem algo semelhante em relação a Jesus, i.e. que foi um profeta apocalíptico falhado, cuja mensagem os discípulos desiludidos alteraram para justificar o facto inesperado e traumático de verem crucificado aquele que esperavam vir a ser seu rei terreno, tornando o seu reino sobrenatural. É verdade que houve uma “conspiração” nos casos de Shakespeare e de Jesus? Não sabemos. Apenas sabemos que qualquer medida de tempo tem solo fértil que chegue para a teoria da conspiração germinar.
Então, se a dúvida relativa à identidade de uma figura considerada sobre-humana pode surgir com a mesma pertinência em relação a alguém nascido há 2000 anos e há 400 anos, poderia surgir relativamente a alguém que morreu ontem? Estamos convictos de que os registos audiovisuais que conseguimos captar hoje protegem a identidade histórica dos nossos génios, mas se Shakespeare tivesse morrido ontem, após receber o Nobel da Literatura e três ou quatro Óscares, e com infindáveis entrevistas gravadas ao vivo em programas televisivos e podcasts, seria impensável que a questão da autoria das suas peças se tornasse tópico de debate no ano 2424? Seria impossível que uma franja de intelectuais desconfiados atribuísse a sua fama literária à inteligência artificial, ou a uma conspiração de autores, ou a outra coisa qualquer, de forma plausível?
Caso a resposta seja “não,” o mesmo pensamento é aplicável com igual propriedade a Jesus. Estaríamos em melhor posição para julgar a veracidade dos eventos relatados nos Evangelhos se Jesus tivesse morrido há 400 anos? Ou em Inglaterra no século XVII? Ou ontem? Talvez. Afinal, temos câmaras e microfones. Mas poderia essa certeza manter-se incólume historicamente? O caso de Shakespeare indica que não. Mais século menos século, a dúvida razoável surgirá nas franjas académicas e a posição céptica deixaria de ser absurda. O tempo acumula-se nas figuras que endeusamos como um sarcófago, até que finalmente dos lábios dourados alguém ouve as famosas palavras de Iago: “I am not what I am.”
Se de facto assim for, se o milagre for sempre mais absurdo do que a conspiração independentemente do registo histórico, se a existência do Cristo bíblico não fosse mais certa hoje tivesse ele sido contemporâneo de William Shakespeare, é tarefa de todo o céptico responder à questão a que assim fica exposto perante o Cristianismo: “Ateu, que Evangelho, ainda que em formato audiovisual, te converteria?”
-
CATEGORIES
Arte e cultura -
DATE
30 de Janeiro, 2024 -
COMMENTS
Leave a comment